Para Inspirar
Na quarta temporada do Podcast Plenae - Histórias para Refletir, conheça o trabalho inspirador de Gabi e Kety, em Flores para os Refugiados

Leia a transcrição completa do episódio abaixo:
[trilha sonora]
Gabriela Shapazian: Ninguém escolhe ser refugiado. São pessoas como eu, como você, com a diferença que sofreram um trauma que a gente nem consegue imaginar o tamanho. Eles perderam tudo: os bens, a dignidade, muitas vezes a família. Eles saem de casa e vão pra outro lugar desconhecido recomeçar a vida do zero. E ainda são mal recebidos quando chegam. Um homem do Iêmen me disse que era a primeira pessoa que olhava ele no olho, sem ar de superioridade. Eu trato os refugiados de igual pra igual, porque é assim que eu gostaria de ser tratada se tivesse no lugar deles. Quem disse que um dia eu não posso ser uma refugiada também? Eu não sei o que vai acontecer com o mundo daqui a 10, 30, 50 anos. Se eu tiver que entrar num bote de borracha pra fugir da guerra ou da miséria, eu quero que do outro lado do mar tenha alguém pra me receber com um abraço. [trilha sonora]
Geyze Diniz: A ativista Gabriela Shapazian se dedica a ajudar refugiados desde os 16 anos. Ela se apaixonou pela causa quando trabalhou como voluntária na Grécia ao lado da mãe, Kety. As duas recepcionavam pessoas que atravessavam o mar em condições precárias vindos do Oriente Médio, da África e da Ásia. Nessa viagem, Gabi mudou a sua visão de mundo. A vida confortável que ela levava em São Paulo deixou de fazer sentido pra ela. E para financiar o trabalho da filha nessa missão humanitária, Kety criou um negócio: o Flores para os Refugiados. Ouça no final do episódio as reflexões da especialista em desenvolvimento humano, Ana Raia, para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geyze Diniz e esse é o Podcast Plenae. Ouça e reconecte-se.
Kety Shapazian: Em 2015, as notícias sobre a crise dos refugiados na Europa me abalaram muito. Eu me sentia impotente vendo milhares de pessoas atravessando o mar em barcos precários. Vendo crianças morrendo afogadas. Vendo autoridades de braços cruzados. A minha filha, Gabriela, de tanto me ouvir reclamar, falou: “Faz alguma coisa, mãe, compra a passagem e vai pra lá ajudar”.
A gente começou a pesquisar sobre o assunto. Encontramos no Facebook um grupo de voluntários na ilha de Lesbos, na Grécia. Comprei uma passagem pra dezembro e reservei um hotelzinho numa praia chamada Skála Sykamineas. Naquela época, a maioria dos barcos com refugiados chegava naquele ponto.
Na mesma época em que eu ia pra Grécia, a Gabi tava de viagem marcada pra Itália. Ia passar duas semanas de férias em Roma e Milão, com a minha mãe. Mas ela começou a se empolgar muito mais com a minha viagem do que com a dela. Queria ir comigo de qualquer jeito.
Eu não estava pronta pro que eu ia ver na Grécia. E me perguntava: será que era certo levar uma menina de 16 anos junto comigo? Mas Gabi me convenceu e eu resolvi arriscar. Ela foi passear na Itália e depois pegou um voo sozinha pra me encontrar em Lesbos. O plano era a gente passar 10 dias juntas trabalhando. [trilha sonora] Gabriela Shapazian: Skála Sykamineas é uma vila de pescadores, com cerca de 100 moradores, a maioria idosos. Fica só a 10 quilômetros de distância da Turquia. Quando você olha pro mar, dá pra ver a Turquia do outro lado. A vila tem uma ruazinha com um hotel pequeno, um café, um restaurante e um mercadinho. Essa rua termina na praia e, à esquerda, vira uma estradinha paralela à costa. A vila estava lotada, o que não era normal, por ser inverno.
Eu cheguei num fim da tarde. E na manhã seguinte, me vi no meio da linha de frente da maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Os voluntários estavam divididos em dois grupos. Uma parte ficava na terra e outra em barcos de resgate. Era ilegal tirar os refugiados do bote e colocar eles no barco de resgate. Voluntários já foram presos por salvar pessoas que estavam morrendo afogadas. Então, o jeito era encontrar o barco clandestino no meio do caminho e acompanhar ele até a praia.
Eu fiquei no grupo da terra. Por rádio, o pessoal do mar avisava: “Tem um barco vindo pra praia de Skala. Vai chegar daqui a 20 minutos. Tem outro indo pra praia tal”. Eu lembro quando vi meu primeiro barco. Na verdade, foram dois, que chegaram quase ao mesmo tempo. Primeiro, vi um pontinho preto lá longe. Depois, outro. Quando chegaram mais perto, identifiquei que eram botes de borracha. Escutei grito, chora, reza. Era uma média de 100 pessoas em um barco feito pra caber umas 20. Na primeira vez que eu vi essa cena, eu quase comecei a chorar.
Quando o barco chegou, não sei muito como explicar, bateu um negócio em mim que aquela emoção se transformou em foco. Eu não podia entrar em desespero. A meta era tirar o povo do barco o mais rápido possível, sem que ninguém caísse na água. No nervosismo, as pessoas pulavam do barco e ficavam 100% encharcadas. Muita gente chegava literalmente morrendo de frio, com hipotermia. A temperatura variava entre 5 e 10 graus. Em alguns dias, fazia 0 graus, menos 1, menos 2. Por ser ilha, ventava muito, um vento gelado. Fui lá e ajudei a tirar primeiro as crianças, depois as mulheres e por último os homens. O procedimento é colocar todo mundo em terra firme e checar se alguém precisa de médico. Depois, ajudar a tirar os coletes salva-vidas e acalmar as pessoas, porque elas chegam super nervosas. Quando todo mundo percebe que tá bem, que os filhos estão bem, a mulher, o marido, os irmãos... É uma felicidade muito grande. Eu nunca vi felicidade que nem aquela e provavelmente nunca mais vou ver. [trilha sonora]
Kety Shapazian: Em um dos meus primeiros barcos, uma família chegou e quando viu que estava em terra firme, eles se abraçaram. E eu estava ali do lado e fui abraçada junto com eles, pai, mãe e filho. Eles choravam, gritavam, agradeciam a Deus por estarem vivos. Foi um momento lindo. Muita gente falava: “Vocês são as primeiras pessoas boas que a gente encontra no caminho”. A trajetória deles é longa. Esses refugiados não saíram da Turquia, eles saíram da Síria, saíram do Afeganistão, atravessaram todo o Irã e depois atravessaram a Turquia. Saíram do Paquistão, que é mais longe ainda. Tinha gente que chegava do Sri Lanka, de Bangladesh, de países africanos. As pessoas demoravam meses pra chegar naquela praia onde nós estávamos e finalmente pisar em solo europeu. [trilha sonora]
Gabriela Shapazian: Na cabeça dos refugiados, atravessar o mar era a parte mais difícil. E a gente sabia que eles ainda iam ter muitos desafios pela frente.
[trilha sonora]
Eles iam ter que ir pro campo de refugiados, que é um lugar horrível. Iam ter que dormir lá, passar frio, esperar autorização, depois atravessar não sei quantas fronteiras a pé até chegar na Alemanha, onde pediam asilo. É uma jornada longa. Mas, naquele momento, eles estavam muito felizes e aliviados por estarem vivos.
A nossa prioridade, depois de tirar todo mundo do barco, era levar as pessoas para um campo de transição, construído pelos voluntários no meio da estrada, e dar roupa e sapato seco para todo mundo. Depois a gente distribuía comida, água e chá. Os refugiados ficavam ali umas 2 ou 3 horas, antes de serem levados pro campo onde podiam se registrar.
Enquanto um grupo de voluntários cuidava de quem tinha acabado de chegar, outro já corria pra receber os barcos. Eu olhava pro mar e dava pra contar: um, dois, três, quatro, tudo ao mesmo tempo. A gente chegou a receber dez barcos, com cem pessoas dentro de cada um, no intervalo de uma hora, em uma praia minúscula. Minha mãe e eu acabamos ficando 45 dias, não dez. Não tinha a menor possibilidade de eu ir embora e passar janeiro inteiro de férias em casa, fazendo nada.
Por mim, eu largava a escola e nem voltava pro Brasil. Mas a minha mãe fez questão que eu terminasse o Ensino Médio. Eu voltei pra casa chorando e decidida a retornar para Europa na primeira oportunidade que eu tivesse. A minha cabeça tinha virado do avesso. Eu estava 100% focada na causa dos refugiados e só pensava em voltar para a Grécia.
[trilha sonora]
Kety Shapazian: Quando a Gabi falou: “É isso que eu quero fazer da minha vida”, eu comecei a pensar numa forma de ganhar dinheiro pra bancar o sonho dela. Ser voluntário é caro, porque você paga pra trabalhar. Eu tinha saído de um emprego e estava perdida, procurando o que fazer. Até que o destino se encarregou de me dar uma luz.
A Gabi estava enlouquecida em São Paulo, querendo ajudar os refugiados. Aí a gente foi até uma ocupação de palestinos e sírios, no centro da cidade. Na primeira porta que a gente bateu, conheceu um rapaz e a mulher dele, grávida de 6 meses. Ela não estava fazendo pré-natal, não tinha enxoval. Aí eu levei ela no médico, organizei um chá de bebê na minha casa. E nesse chá de bebê, eu ganhei uma garrafinha com umas florzinhas. Na hora eu falei: “Nossa, é isso que eu vou fazer. Eu vou vender flor." [trilha sonora]
Só que eu não sabia nada sobre arranjo de flor. As únicas vezes que eu comprei flor na vida foi pra enfeitar numa casa em festa de Natal. Eu não sabia quanto pagar, quanto cobrar, nem onde vender. Aí eu comprei umas garrafinhas, umas florzinhas, montei os arranjos e fui vender por 15 reais num farol perto de cada. Aí pronto. Por causa disso, a minha mãe parou de falar comigo. O rapaz que passeava com os cachorros me viu e perguntou se eu estava bem. Um menino da escola comentou com a Gabi que tinha me visto vendendo flor na rua. A Gabi achava o máximo, e foi isso que me deu força. Porque estar no farol foi uma experiência alucinante. As pessoas fechavam o vidro na minha cara, faziam sinal de “não” com a mão. Eu me sentia muito mal. Hoje, eu tenho receio de fechar a janela do carro e magoar alguém na rua.
[trilha sonora]
Eu sempre falo: eu preciso fazer um arranjo tão bonito quanto o trabalho da minha filha. O Flores para os Refugiados não existe sem a Gabi. E o trabalho dela não existe sem o Flores para os Refugiados. São duas coisas que andam de mãos dadas. Tem cliente que nem quer saber sobre o projeto. Mas também tem gente que compra e fala: “O arranjo é lindo, mas o trabalho da sua filha é maravilhoso e eu quero apoiar”.
[trilha sonora]
Gabriela Shapazian: Eu voltei pra Europa várias vezes. Muitas das pessoas que foram pra Grécia em 2015 fundaram organizações não-governamentais. Como eu conheço elas, sou convidada pra vários projetos. Já trabalhei em escolas, dei aulas de inglês, ajudei os refugiados a fazer currículo, dei informações, organizei logística para receber doações… Enfim, várias atividades.
Em 2017, trabalhei em campos de refugiados na Sérvia. As pessoas eram torturadas pela polícia quando tentavam cruzar a fronteira para sair do país. Elas chegavam com braço, perna, costela quebrados, com mordidas de cachorro no corpo inteiro. A maioria era formada de menores desacompanhados. Eu não aguentei ficar lá. Nessa viagem, descobri que eu preciso fazer pausas, de tempos em tempos. Tenho que sair de cena pra esfriar a cabeça. Tudo isso é muito pesado emocionalmente. [trilha sonora] Mesmo com todas as dificuldades, eu sou muito feliz no meu trabalho. Os meus valores mudaram completamente. Fico super brava quando a minha mãe reclama que não tem dinheiro. Penso 6 meses antes de comprar qualquer coisa. Eu reflito: “Preciso mesmo disso?” Vi famílias prontas pra atravessar a Europa a pé com uma sacola de plástico, porque perderam absolutamente tudo. E dentro da sacola tinha uma garrafa de água e uma fruta.
Trabalhar com refugiados abriu o meu olhar para todo o resto, como o morador de rua que mora perto da minha casa desde sempre. A gente nunca tinha conversado com ele. E quando voltamos de Lesbos pela primeira vez, minha mãe foi perguntar se ele precisava de alguma coisa. No convívio com pessoas tão diferentes de mim, eu aprendi que o estranho não é ruim. Ele é só desconhecido.
[trilha sonora]
Kety Shapazian: Uma vez me perguntaram: “A Gabi não vai pra faculdade? Não vai um dia dar entrada no apartamento? Comprar carro? Ficar noiva?” Eu falei: “Não sei, pode ser. Mas isso não tem importância pra gente”. Eu me sinto muito sortuda de ser mãe da Gabi, mas eu também permiti que ela se tornasse esse ser humano maravilhoso que ela é. Eu vejo muito pai e mãe reclamando de filho, mas só exige do filho que ele vá pra faculdade. E de repente o futuro daquele jovem não tá numa sala de aula.
A coisa mais certa que eu fiz na vida foi ter levado a Gabi comigo pra Grécia. Eu me arrependeria profundamente se ela não tivesse ido. Hoje, eu vejo que era ela que tinha que estar lá, não eu. [trilha sonora]
Geyze Diniz: Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenae.com e em nosso perfil no Instagram @portalplenae. [trilha sonora]
Para Inspirar
Fomos investigar quais são as diferenças deste órgão tão complexo que é o cérebro e como isso pode refletir em nossos comportamentos e habilidades
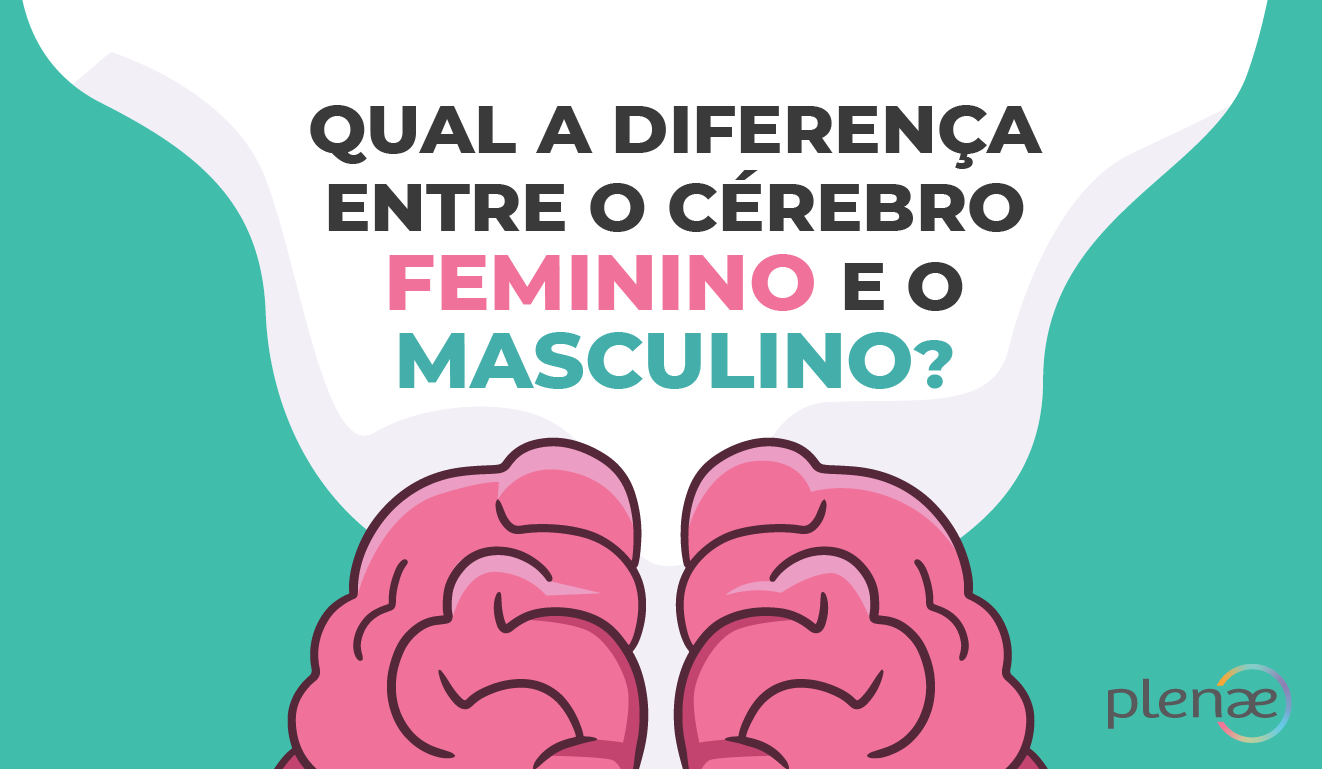

Recentemente, a participação de atletas trans em competições olímpicas gerou debates e polêmicas ao redor do mundo. Sobretudo quando se trata de uma mulher transsexual que está competindo na categoria feminina e que, frequentemente, é acusada de ter mais aptidão ou vantagens física do que outras por já ter sido homem antes.
É fato que há diferenças entre os corpos, mas o debate é legítimo e todos os lados possuem um ponto. Mas nós fomos além: será que há uma diferença entre o cérebro de uma mulher e de um homem? A resposta é: sim. Isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro. São apenas diferenças pontuais que te contaremos a seguir!
 Rosa ou azul: tudo coisa do passado!
Rosa ou azul: tudo coisa do passado!Vamos começar pelo começo. Primeiro, é preciso distinguir a ideia de sexo biológico e morfológico versus a ideia de gênero. Enquanto o primeiro está relacionado a uma combinação de genes e órgãos respectivos a homens ou mulheres, o segundo é uma identidade construída socialmente.
Sendo assim, gênero está relacionado à ideias antiquadas, como as de que homens gostam de azul e meninas gostam de rosa, por exemplo. Isso nada tem a ver com ciência de fato e muito menos com os nossos cérebros, já que são estímulos somente sociais e que não só podem, como devem ser desconstruídos.
A ideia de gênero nos atravessa tanto, desde que somos crianças, que isso pode gerar uma não-identificação por parte de algumas pessoas que, apesar de terem nascido com um determinado sexo biológico, se identificam mais com os papéis atribuídos ao seu oposto.
São as pessoas transsexuais, ou seja, que optam por se transformarem em outro sexo para assim, se reconhecerem mais. Mencionamos elas logo no começo desse artigo, por serem alvos de críticas relacionadas ao esporte, mas não para por aí: são vários os mitos e verdades acerca do tema, como trouxemos neste artigo aqui, e que continuam violentando essa população.
 O cérebro de cada um
O cérebro de cada umSeparados os conceitos, vamos entender agora a diferença entre o cérebro masculino e feminino segundo seu sexo biológico. Essas disparidades, vale dizer, não tornam um melhor do que o outro, apenas com mais aptidões específicas em frentes diferentes.
A primeira diferença é referente a memorização e capacidade motora. Neurocientistas da Universidade da Pensilvânia fizeram uma pesquisa analisando cerca de mil jovens para concluir que a conectividade entre diferentes partes do cérebro se desenvolve de forma distinta entre os dois.
Nas mulheres predominam as conexões entre os dois hemisférios do cérebro, e nos homens prevalecem as conexões interiores de cada hemisfério. Isso resulta em algumas características mais predominantes em um e em outro. Essa dinâmica parece ficar mais evidente após os 14 anos, o que leva os pesquisadores a acreditarem que há influência dos hormônios da puberdade envolvidos nesse processo.
Mas, o que tudo isso significa? Que as mulheres exibem melhor pontuação no conhecimento social, na memória, na inteligência linguística e até na compreensão dos sinais. Já os homens têm, em média, mais habilidades motoras, capacidade de trabalhar focado em um tema só e uma maior percepção espacial.
Segundo Fabiano de Abreu Rodrigues, neurocientista e neuropsicólogo com extenso currículo, para o jornal Estadão, apesar do cérebro feminino ser ligeiramente menor que o do homem - até pela sua estrutura corporal -, o fluxo sanguíneo e a proporção de substância cinzenta delas são mais avantajados.
Ainda segundo ele, quando a mulher fala, os dois lados dos lobos frontais são ativados e no deles apenas o lado esquerdo. O hipocampo (região relacionada à memória) delas é maior, quando a amígdala (reguladora das emoções e memórias relacionadas a emoção, comportamentos sociais e excitação sexual) é menor.
O sistema dos neurotransmissores serotonina, dopamina e GABA das mulheres é mais robusto, com maior concentração na própria corrente sanguínea. Por isso, elas podem sentir mais as variações de humores, por exemplo, que também está relacionado, claro, às questões hormonais inerentes do sexo feminino.
 Há quem discorde
Há quem discordeComo tudo na ciência, há controvérsias. Afinal, se não houvesse quem provocasse o pensamento contrário ou instigasse a revisitação de certos dados, não seria a ciência. É o caso da neurocientista e escritora Gina Rippon. Sua principal bandeira é refutar uma teoria que, inclusive, já caiu por terra há tempos e nem foi trazida aqui nesse artigo: a de que homens possuem mais massa cinzenta e, por isso, são cognitivamente superiores às mulheres.
Para ela, as diferenças psicológicas ou sociais que elas veem entre homens e mulheres não podem ser explicadas em termos de diferenças biológicas. “Não estou negando eventuais diferenças. Um cérebro nunca é exatamente igual ao outro! O que eu quero dizer é que, no que diz respeito às habilidades cognitivas, por exemplo, o sexo biológico do indivíduo terá pouca influência sobre a estrutura ou o funcionamento de seu cérebro”, diz ela à Veja Saúde.
Rippon sustenta que a criação às quais nós expomos homens e mulheres é o que acaba por fim a diferenciá-los de maneira imposta - mais ou menos o que falamos no começo deste artigo sobre gênero e identificação.
“Há tantas construções sociais que acabam por estabelecer uma diferença inevitável entre meninos e meninas. Qual é o problema disso? Significa que devemos tratá-los de maneira diferente. Que eles devem se comportar de maneira diferente. Que terão habilidades e temperamentos diferentes. E, como o cérebro em desenvolvimento é muito flexível e impressionável, marchamos para o reino das profecias autorrealizáveis”, complementa.
Lisa Mosconi, outra neurocientista muito respeitada na área, também refuta alguns velhos pré-conceitos. "Posso garantir que não existe um cérebro de gênero. Rosa e azul, Barbie e Lego. São invenções que nada têm a ver com a forma como nossos cérebros estão formados", assegura em reportagem à BBC.
O que Mosconi defende, na realidade, é que há sim diferenças entre o processo de envelhecimento das mulheres e dos homens, principalmente, mas isso está mais atrelado às situações que as mulheres vivenciam ao longo da vida do que ao órgão em si.
Além disso, ela denuncia a falta de estudos mais aprofundados que foquem somente em mulheres pois, segundo elas, há particularidades femininas em todo o corpo e comportamento que refletem ou que dão indicativos importantes sobre o nosso cérebro.
“Os cérebros das mulheres passam por mudanças significativas em pontos críticos específicos, aos quais me refiro como os "3 Ps": puberdade, gravidez (pregnancy, em inglês) e perimenopausa”, diz. Se há um encolhimento aparente no cérebro da mulher nessas situações, é para que ele se torne, na verdade, mais eficiente.
O estrogênio, hormônio feminino importantíssimo para uma série de funções do corpo da mulher, também acaba afetando o cérebro em sua falta - que, no caso, se dá na perimenopausa. A alta incidência de Alzheimer em mulheres, por exemplo, pode ser um reflexo da falta do estradiol que, outrora, protegia o cérebro. E se o assunto é memória, o fato de as mulheres serem mais afiadas pode ser prejudicial na hora do diagnóstico de algumas demências, que ficam mascaradas.
 Afinal, quem é quem?
Afinal, quem é quem?A conclusão é que não há um melhor nem um pior, mas há ainda um traço machista predominante na ciência que acaba não só por invalidar muitas mulheres cientistas e suas teorias, como também parece ter se aprofundado, ao longo da história, muito mais nos homens do que nas mulheres.
O que sabemos hoje é que há algumas questões nem tanto da ordem anatômica, mas do funcionamento do cérebro, que pode privilegiar algumas capacidades para eles e outras para elas. Mas, também sabemos que o nosso cérebro é um órgão plástico - a neuroplasticidade que te contamos aqui - e que, se for devidamente estimulado, é capaz de feitos incríveis.
Portanto, todo comportamento social engajado e incentivado a uns, devem ser a outros também, para que haja a equidade entre homens e mulheres e para que ambos sejam devidamente celebrados. Nenhum cérebro é exatamente igual ao outro, e isso é o que há de mais belo dentro de nós.
Conteúdos
Vale o mergulho Crônicas Plenae Começe Hoje Plenae Indica Entrevistas Parcerias Drops Aprova EventosGrau Plenae
Para empresas