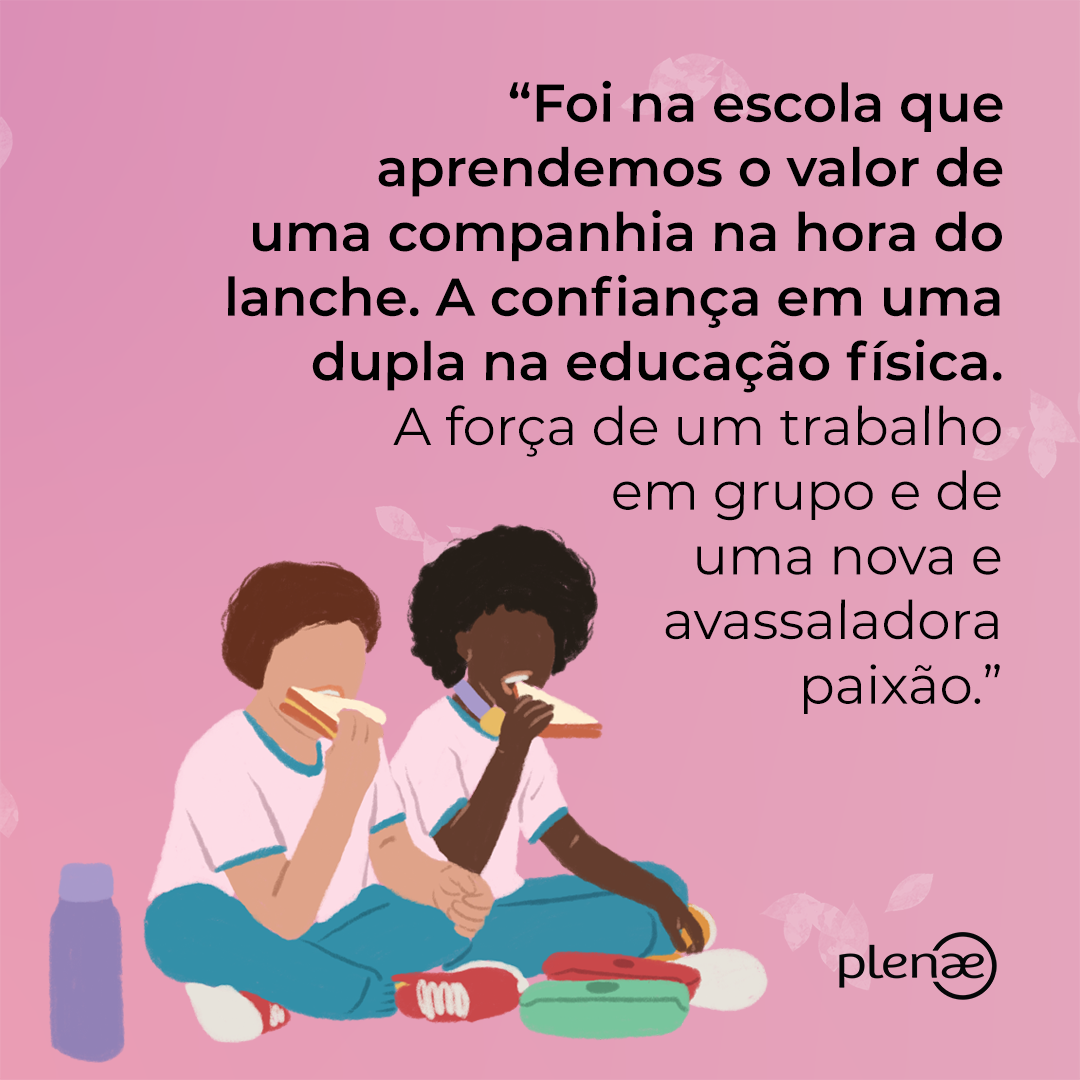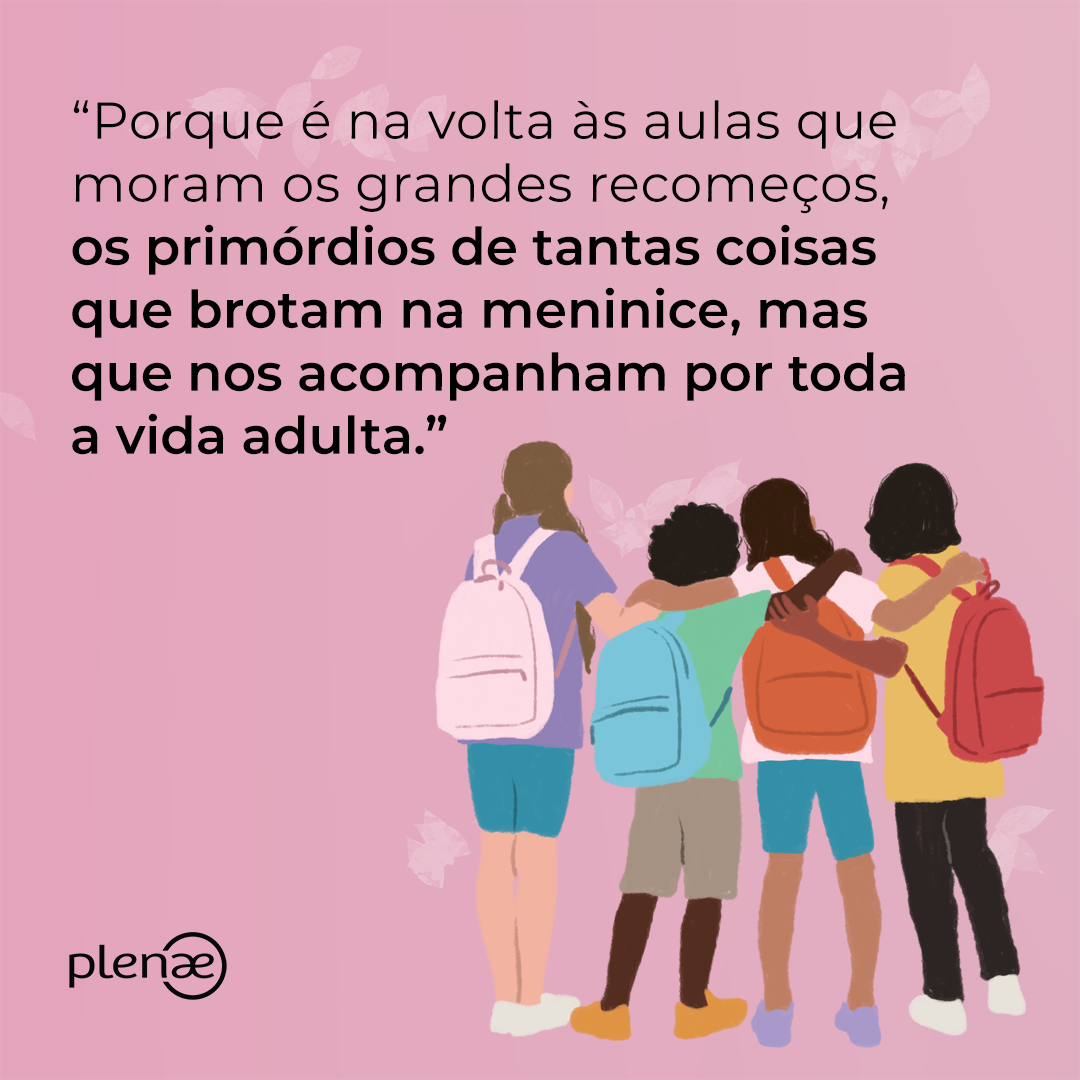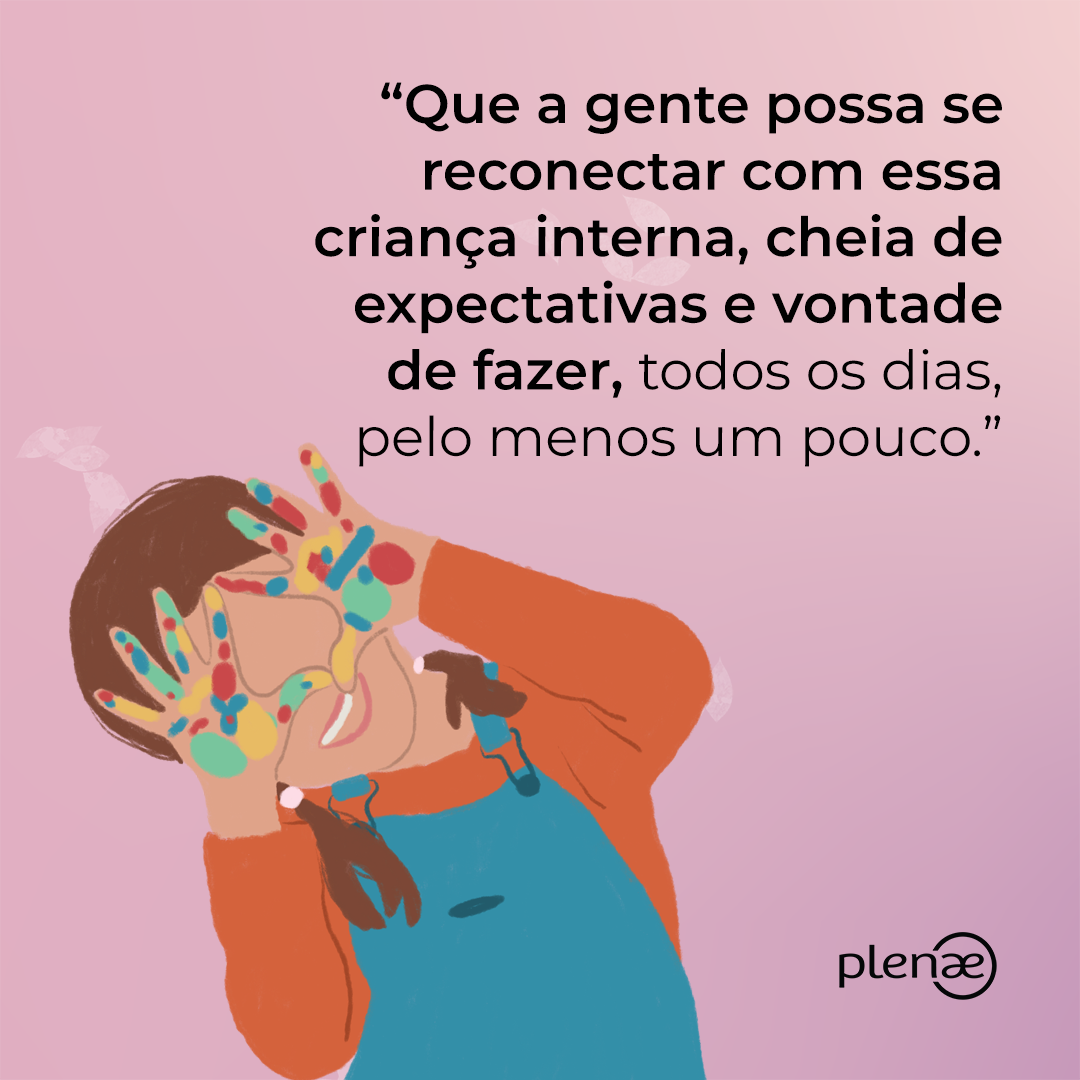Para Inspirar
Por que a terapia funciona?
Para pesquisadora, encontro entre paciente e psicólogo vai além da mera conversa e é mais profundo do que o tratamento clínico
 15 de Janeiro de 2020
15 de Janeiro de 2020
De acordo com estudos, a terapia psicológica parece funcionar tão bem quanto os remédios (e, sugerem pesquisas, ela é possivelmente melhor a longo prazo). Duas pessoas se sentam em uma sala e conversam, toda semana, por um período de tempo determinado, até que em algum momento uma delas sai pela porta transformada, sem ser atormentada pela dor, paralisada pelo medo ou esmagada pelo desespero.
Por que isso acontece?
O fenômeno é ainda mais intrigante se considerarmos o grande número de terapias oferecidas e os métodos conflitantes que eles costumam empregar. Alguns terapeutas nem falam a maior parte do tempo, deixando o silêncio arrancar verdades desconfortáveis de seus clientes; outros dificilmente param entre sequências estruturadas de exercícios e tarefas de casa.
Em mais de 400 psicoterapias disponíveis hoje, o profissional pode assumir a forma de um curandeiro, um confidente, um especialista clínico, um
coach de condicionamento mental ou qualquer combinação deles.
Nos últimos três anos, conversei com dezenas de terapeutas de várias escolas, tentando entender como a terapia funciona.
A maioria dessas conversas me fez sentir que nem eles sabiam explicar de maneira convincente como as pessoas se curam.
Para complicar, numerosos estudos nas últimas décadas chegaram ao que parece uma conclusão contraintuitiva: que todas as psicoterapias têm efeitos aproximadamente iguais.
Para muitos pesquisadores, a razão mais profunda pela qual nenhuma psicoterapia parece oferecer vantagens únicas sobre qualquer outra é que todas elas funcionam por causa de elementos compartilhados. A principal delas é a relação terapêutica, conectada a resultados positivos por uma riqueza de evidências.
O vínculo emocional e a colaboração entre cliente e terapeuta - chamada aliança - emergiram como um forte preditor de melhoria, mesmo em terapias que não enfatizam fatores relacionais.
O que acontece entre o cliente e o terapeuta vai além da mera conversa e é mais profundo do que o tratamento clínico. O relacionamento é maior e mais primitivo, e se compara aos avanços do desenvolvimento que ocorrem entre mãe e bebê. Estou me referindo ao apego.
A teoria do apego tem suas raízes no psicanalista britânico John Bowlby, que na década de 1950 combinou teoria evolutiva e psicanálise em um novo paradigma.
Assustado com a falta de rigor acadêmico de sua profissão, Bowlby se voltou para a crescente ciência do comportamento animal. Experimentos com macacos recém-nascidos (alguns tão cruéis que nenhum conselho ético os permitiria hoje) contestaram a noção predominante de que os bebês veem suas mães principalmente como fonte de alimento.
Bowlby argumentou que a busca por conforto ou segurança é uma necessidade inata: evoluímos para buscar apego a cuidadores "mais velhos e mais sábios" para nos proteger do perigo durante o longo período de desamparo conhecido como infância. A figura do apego, geralmente um ou ambos os pais, torna-se uma base segura a partir da qual explorar o mundo e um refúgio seguro para o qual retornar para o conforto.
Pesquisas sobre a teoria do apego sugerem que as interações precoces com os cuidadores podem afetar drasticamente suas crenças sobre si mesmo, suas expectativas dos outros e a maneira como você processa as informações, lida com o estresse e regula suas emoções quando adulto.
Por exemplo, filhos de mães sensíveis desenvolvem apego seguro, aprendem a aceitar e expressar sentimentos negativos, apoiam-se nos outros em busca de ajuda e confiam em sua própria capacidade de lidar com o estresse.
Por outro lado, filhos de cuidadores insensíveis formam apego inseguro. Eles ficam ansiosos e facilmente angustiados com o menor sinal de separação de sua figura de apego.
Mães duras ou desdenhosas produzem bebês esquivos, que suprimem suas emoções e lidam apenas com o estresse. Por fim, as crianças com cuidadores abusivos ficam desorganizadas: alternam entre enfrentamento esquivo e ansioso, se envolvem em comportamentos estranhos e geralmente se machucam.
Não é difícil ver como esses padrões de apego podem prejudicar a saúde mental.
Tanto o enfrentamento ansioso quanto o evitativo têm sido associados a um risco aumentado de ansiedade, depressão, solidão, distúrbios alimentares e de conduta, dependência de álcool, abuso de substâncias e hostilidade. A maneira de tratar esses problemas, dizem os teóricos do apego, é através de um novo relacionamento.
Nessa perspectiva, o bom terapeuta se torna uma figura de apego temporário, assumindo as funções de uma mãe nutridora, reparando a confiança perdida, restaurando a segurança e injetando duas das principais habilidades geradas por uma infância normal: a regulação das emoções e uma intimidade saudável.
Na terapia, depois de um tempo, os clientes internalizam o calor e a compreensão de seu terapeuta, transformando-o em um recurso interno para atrair força e apoio.
Uma voz nova e compassiva brilha na vida, silenciando a do crítico interno - ele próprio um eco de figuras insensíveis do apego anterior. Mas essa transformação não é fácil. Como escreveu o poeta WH Auden em
The Age of Anxiety
(A era da ansiedade): "Preferimos ser arruinados do que mudados".
É o trabalho do terapeuta orientar os clientes enquanto eles viajam em águas desconhecidas, ajudando eles permanecem esperançosos e persistirem através da dor, tristeza, raiva, medo, ansiedade e desespero que possam precisar enfrentar.
Fonte: Elitsa Dermendzhiyska, para
The Guardian
Síntese: Equipe Plenae
Leia o artigo original
aqui.