Para Inspirar
Como um episódio marcante pode mudar os rumos de sua vida - e de outros tantos? Rodrigo Hübner Mendes explica, no Podcast Plenae

Leia a transcrição completa do episódio abaixo:
[trilha sonora]
Rodrigo Hübner Mendes: Quando o pessoal do Plenae me convidou pra gravar esse podcast, achei interessante a provocação pra que eu falasse sobre minha relação com meu corpo, com a minha saúde, com meu movimento. Especialmente pra alguém que, aos 18 anos, sentiu na pele o que parecia ser uma eterna perda da mobilidade. [trilha sonora]
Geyze Diniz: Conhecer o Rodrigo é entender o significado da palavra inspiração. Uma assalto, um tiro, uma mudança drástica do percurso. O que seria para muita gente motivo para deprimir e se fechar, foi o motivo com que ele se abrisse para o mundo e criasse caminhos para inclusão de tanta gente que precisa. No final do episódio, você ouvirá reflexões do doutor Victor Stirnimann para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geyze Diniz e esse é o Podcast Plenae. Aproveite este momento, ouça e reconecte-se. [trilha sonora]
Rodrigo Hübner Mendes: Durante toda minha infância fui apaixonado por futebol. Comecei jogando bola no quintal de casa e, conforme fui ganhando confiança, pedi pro meu pai me inscrever no campeonato do Clube Pinheiros. Tive a sorte de me destacar logo no primeiro ano. Fui convocado pra a seleção do clube, o que era o máximo pra um garoto naquela idade. Já com 13 anos, levei uma pancada no joelho, o que me afastou completamente do esporte por bastante tempo. Acabei precisando passar por uma cirurgia pra retirada do menisco, que resolveu totalmente o meu problema. Voltei a jogar bola sem nenhuma dor. E, ao mesmo tempo, defini qual seria meu plano de vida. Fiquei tão fascinado com o poder do médico de devolver bem-estar pras pessoas, que decidi que eu seria cirurgião de joelhos de atletas.
[trilha sonora]
Na época, meu médico tinha fortemente recomendado que eu balanceasse o futebol com algum esporte que não gerasse impacto no joelho e que me desse massa muscular. Lembrei que um primo mais velho tinha experimentado remo recentemente e tinha adorado. E aí fui eu pra raia da USP, onde ficam as instalações de todos os clubes de remo de São Paulo. Logo de cara criei uma enorme curiosidade e motivação por aquele esporte que, no meu imaginário, formava atletas indestrutíveis, incansáveis. Quer dizer, um universo extremamente sedutor para um adolescente em busca de novidades. Comecei remando no Paulistano, que é um clube de elite e tinha a melhor infraestrutura na época. Nosso treinador se chamava Hércules. Acho que nenhum nome pode ser mais apropriado pra descrever um personagem que era um mito na raia. O cara era um armário, alto, muito forte, barba preta. Falava pouco, nunca sorria e fuzilava com os olhos quando alguém se atrevia a fazer um comentário mais descontraído durante o treinamento. Eu achava aquilo tudo muito divertido. Me sentia meio que num filme. Mas levava super a sério. Era bem "caxias" com horários, esforço, etc.
[trilha sonora]
Saltando no tempo, na época em que eu estava no cursinho pré-vestibular, eu passei por um assalto onde levei um tiro. E isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, chamada de tetraplegia.
[trilha sonora]
Fui obrigado a abandonar os estudos e canalizar todo o meu tempo pra diversos tipos de fisioterapia. Tive acesso aos melhores médicos e apoio incondicional da minha família e dos meus amigos. Em nenhum momento me faltou ajuda. Me lembro que, toda noite, a sala de espera do hospital ficava abarrotada de gente querendo me ver, querendo ajudar de alguma forma. Além disso, minha história com esporte foi decisiva para que eu conseguisse sobreviver, especialmente pelo remo que trabalha muito resistência e saber não entregar os pontos.
[trilha sonora]
Teve uma passagem muito marcante com meu pai. No dia do assalto, logo que ele chegou no hospital e me viu na maca, num limite entre vida e morte, muito fragilizado, ele segurou no meu braço e disse: filho, fica tranquilo, faz a sua parte, a gente vai fazer a nossa e a gente vai vencer isso tudo. Isso passou a ser o meu lema diário que me influencia até hoje.
[trilha sonora]
Quando eu comecei a frequentar clínicas de reabilitação, percebi que eu era uma exceção. A maioria das pessoas que passam por acidentes ou nascem com alguma deficiência, enfrentam também pobreza, miséria. Interessante que outro dia eu estava lendo um livro sobre o navegador Ernest Shackleton. Ele era um aventureiro que, em 1914, organizou uma expedição com o objetivo de realizar a primeira travessia do continente antártico com trenós. E aí o negócio deu errado. Antes de chegar no ponto de desembarque, o mar congelou e eles ficaram presos por 9 meses no navio, até que a pressão do gelo arrebentou com a estrutura do barco e eles tiveram que passar um tempo enorme vivendo em cima de placas de gelo, em condições extremas. Temperaturas muito baixas, ventania, muita umidade. Em várias passagens desse livro, o Shackleton fala sobre a relatividade das adversidades. Dizia, por exemplo, que quando a temperatura subia de -25º para -5º, comparativamente eles se sentiam super confortáveis e felizes. Esse livro fez eu voltar no tempo, porque eu me identifiquei muito com essa sensação. Logo na primeira semana de hospital eu tive esse insight de que estava na minha mão dimensionar qual seria o tamanho do meu problema. Em relação a quem não tinha nenhum suporte, me vi ali como uma pessoa extremamente privilegiada. E aí, mais pra frente, o desejo de retribuir tanta coisa boa que eu tinha recebido, combinado com o sentimento de indignação por ver que muitas famílias não tinham como pagar as despesas do tratamento dos seus filhos, com casos muito complicados, resultou na criação do Instituto Rodrigo Mendes. [trilha sonora]
E o que que o Instituto faz? A gente trabalha pra que nenhuma criança ou adolescente fique de fora da escola por causa de uma deficiência. Pra isso, a gente vem investindo em 3 pilares: identificando o que existe de mais avançado no mundo, oferecendo referências práticas pro professor que tá lá na ponta e se sente inseguro e promovendo formação, cursos pra professores em todo Brasil.
Nos últimos anos a gente produziu documentários sobre casos de sucesso no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Dinamarca e na Argentina. E como resultado dessa nossa exposição internacional, a gente foi contratado pelo Governo de Angola para um projeto de consultoria para a criação de uma Política Nacional de Educação Inclusiva lá. É a nossa primeira intervenção na África e vai beneficiar milhares de crianças e adolescentes. Olhando pro Brasil, a gente conseguiu impactar mais de 100 mil educadores dos 26 estados brasileiros. Essa é uma marca que a gente atingiu esse ano. Estamos super feliz, é o nosso presente de 25 anos.
[trilha sonora]
Voltando à provocação do Plenae, será que a minha relação com meu corpo mudou nesse tempo todo? Será que quando eu era atleta o meu corpo exercia maior influência sobre a minha identidade? Ou, ainda, será que a minha nova condição me levou a ser mais desprendido do meu corpo?
[trilha sonora]
Para começar, eu acho que a separação corpo, mente e espírito tem uma função meramente didática. Serve para a gente tratar das diferentes dimensões que nos compõem de uma forma mais organizada. Mas, objetivamente, a nossa existência se dá pelo corpo. É por meio dele que somos percebidos, que a gente deixa nossa marca, mesmo que a gente continue a existir na memória dos outros depois da morte. Isso independe da nossa crença pessoal sobre questões metafísicas e religiosas. Quer dizer, eu continuo intrinsecamente ligado ao meu corpo. E o fato do meu corpo ter mudado não significa que minha essência tenha mudado. Eu sinto que ela foi preservada.
[trilha sonora]
Há alguns anos fui convidado pra dar uma palestra em Davos. Me chamaram para falar sobre resiliência. Como muita gente sabe, resiliência é um conceito da física que diz que, na natureza, alguns materiais têm a capacidade de retornar ao seu estado original após sofrerem uma deformação ou um impacto. Os americanos gostam de chamar isso de "bouncing back", que é o movimento que uma bola de borracha desempenha quando é arremessada contra uma superfície rígida. A bola se deforma e depois recupera a sua configuração. A plateia em Davos tinha príncipes, princesas e grandes autoridades. Quando subi no palco, o entrevistador me perguntou: Rodrigo, sabendo que a história da humanidade é marcada por crises cíclicas, você acha que é possível aplicar o conceito de resiliência para superação dessas crises? Eu pessoalmente acredito que, diante de uma mudança imposta, indesejada, a tendência humana é querer voltar à situação anterior. Senti isso na pele logo depois do meu acidente. Passei 3 anos fazendo 8 horas por dia de fisioterapia pra voltar a ser quem eu era, ou seja, um jovem fisicamente independente. Hoje eu percebo que a resiliência é uma capacidade fundamental para nossa essência. Seja qual for o impacto, a ruptura que surgir na nossa frente, a gente precisa ser capaz de preservar, de proteger nosso objetivo maior. Agora, quando a gente pensa na nossa ação, na nossa vida prática, eu prefiro usar um conceito que é o oposto da resiliência, que é a plasticidade. Plasticidade é a capacidade de um material se moldar, se transformar e se desprender da forma anterior. Resumindo, eu propus que as lideranças lá presentes buscassem combinar resiliência do propósito com plasticidade da ação. Que deixassem para trás o "bouncing back" e começassem a pensar em "bouncing forward". E esse negócio pegou. A expressão "boucing forward" saiu na frase final do relatório do Fórum Econômico Mundial.
[trilha sonora]
Voltando para a questão da mudança do meu corpo, de certa forma, acho que é isso que eu venho fazendo nesses anos todos. Me reinventado, mas blindando a minha essência. Os caminhos pra eu atingir meus objetivos vão se modificando com o tempo, mas o meu norte segue sendo o mesmo. Eu gosto muito do poema vitoriano que diz que “somos mestres dos nossos destinos, somos capitães das nossas almas”. Apesar da enorme incerteza que está sempre ao nosso redor, da impossibilidade da gente controlar as coisas, daquilo que os budistas chamam de impermanência, me ajuda muito pensar que a nossa intenção, o nosso objetivo maior está sob nosso controle, não importa quantos tiros, quantos trancos a gente leve.
[trilha sonora]
Os momentos mais difíceis da minha vida foram, de longe, os primeiros dias no hospital. Eu tinha muita dificuldade pra respirar e precisava enfrentar uma maratona de procedimentos que eu nem sabia que existiam. Toda madrugada, tinha a hora em que todo mundo fazia uma pausa pra descansar e eu ficava, ali, acordado, meio que numa sombra, como que na beira de um precipício, me segurando como eu podia pra não despencar. Nessas horas, eu recorria aos melhores momentos do meu passado, que apareciam como um cinema projetado no céu. Eram sempre momentos marcados por leveza e afeto. E aquilo me reanimava. Eu me sentia com uma força sem fim pra, no dia seguinte, encarar de novo aquele maremoto com meu barquinho a remo.
Me dá muito prazer saber que eu, minha equipe, meus conselheiros, nossos parceiros, quer dizer uma legião de pessoas, trabalham pra melhorar a educação no país, pra que todo mundo esteja no jogo e tenha a chance de marcar um gol ao invés de passar a vida toda no banco de reservas, ou pior, escondido no vestiário.
Uma das estratégias que eu adoto pra manter o meu foco no meu propósito é me lembrar de uma noite, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, em que eu perdi o sono e resolvi ligar a TV. E estava sendo transmitida a cobertura de um encontro mundial de grandes cientistas, filósofos e líderes religiosos. O objetivo era discutir o futuro do planeta.
Os argumentos eram hiper sofisticados até que, num dado momento, a palavra foi passada pro Dalai Lama. E aí, com muita simplicidade, ele falou que é uma ilusão discutir sustentabilidade sem que a gente primeiro reconheça que todos os seres humanos são interdependentes. Eu gosto muito dessa visão de que, se o nosso vizinho tá passando por um sofrimento, de alguma forma a gente também vai ser afetado por esse sofrimento, não importa a altura dos muros que separam as nossas casas.
Eu realmente acredito que a gente precisa ser capaz de devolver tanta coisa boa que a vida oferece pra gente todos os dias e trabalhar duro para que as coisas melhorem. Melhorem não só pra gente, mas pra cada vizinho desse bairro planetário chamado Terra. Acho que no fundo eu continuo seguindo o pedido do meu pai, buscando fazer a minha parte.
[trilha sonora]
Geyze Diniz: As nossas histórias não acabam por aqui. Acompanhe semanalmente nossos episódios e confira nossos conteúdos em plenae.com e no perfil @portalplenae no Instagram. [trilha sonora]
Para Inspirar
Mais necessário do que nunca, o voluntariado oferece diferentes meios para ser colocado em prática, mas a adesão ainda é mais baixa do que o necessário
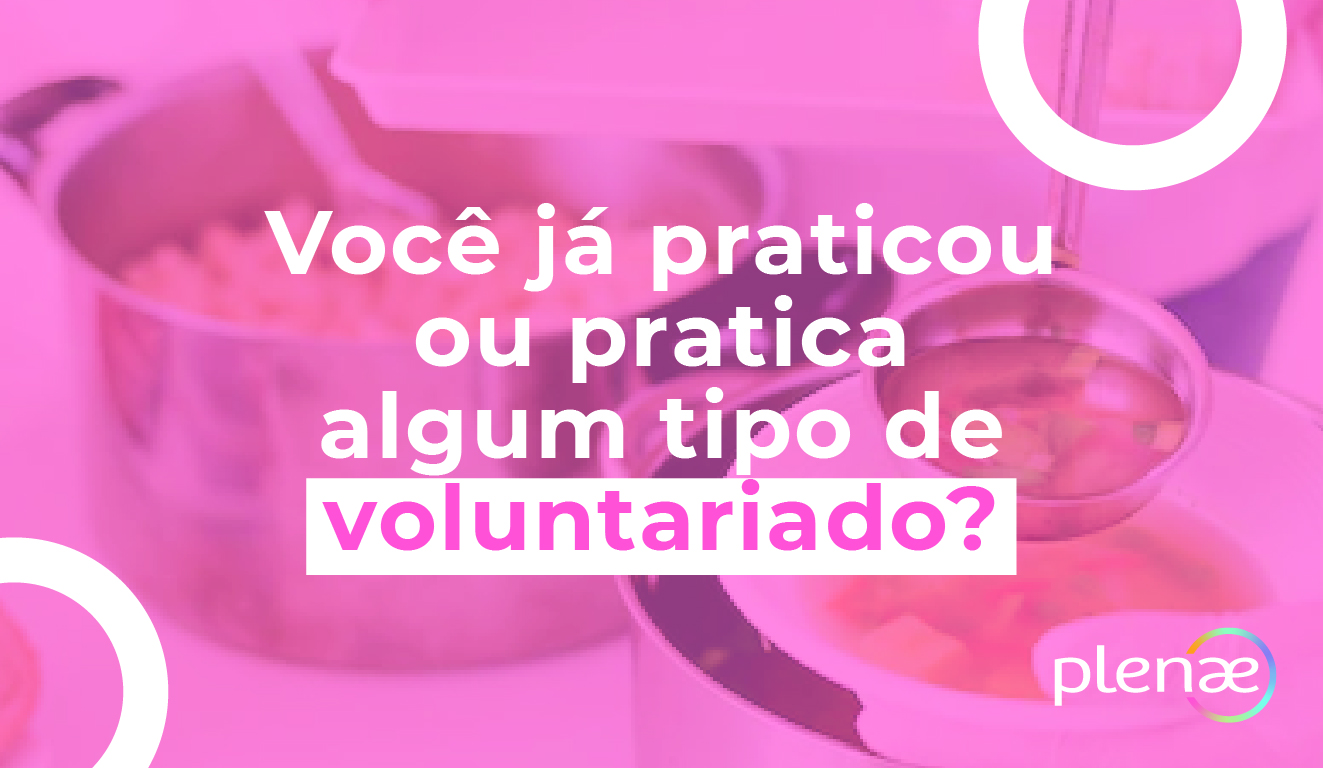

Aqui no Plenae, somos entusiastas do trabalho voluntário por acreditar em seus inúmeros benefícios. Já te contamos quais são os tipos de trabalho voluntário e como ele pode ajudar cada um de seus pilares, trouxemos dados de sua relação com a longevidade e explicamos como ele pode ser benéfico não só para a pessoa que recebe, mas também para quem o coloca em prática.
Também dedicamos a newsletter Tema da Vez de agosto inteirinha para o assunto, aprofundando ainda mais no assunto. Não contentes, convidamos para encerrar a nona temporada o médico mais conhecido do Brasil: Drauzio Varella. Representando o pilar Propósito, ele ganhou notoriedade não só pelo papel que desempenha democratizando a ciência nos meios de comunicação, mas também pelo seu trabalho voluntário como médico dentro de penitenciárias há mais de 30 anos.
Inspirados por sua forma de ver e viver a vida, decidimos mais uma vez mergulhar no tema da filantropia, dessa vez consultado um especialista no assunto: Marcelo Nonohay, fundador da MGN, uma empresa que trabalha com apoio e gestão de projetos para transformação social, mais especificamente com projetos ligados a investimento social privado de institutos e empresas, e também com programas de diversidade e equidade de inclusão também nas organizações.
Separamos alguns pontos fortes de nossa conversa a seguir e esperamos que ela possa te inspirar a doar não só bens materiais e valores financeiros, mas também o seu tempo e seus talentos, dois fatores tão valiosos nos dias de hoje.
Difícil cravar. Essa é a resposta imediata de Marcelo. Isso porque o país, atualmente, carece de diferentes ajudas, em praticamente todas as frentes possíveis. “Eu costumo dizer que o Brasil sempre precisou e depois da pandemia todas as causas ficaram muito urgentes. (...) Atuar e apoiar a área da educação, apoiar a área da saúde, e indo até o meio ambiente, proteção dos animais, de direitos de crianças e pessoas idosas, é tanta coisa que a gente precisa e a gente tem tanta carência infelizmente no nosso país, que é difícil dizer qual é a que mais precisa”, diz.
Para ele, mais do que definir qual causa precisa mais, é preciso criar-se a cultura de doação no país, onde a população sinta vontade de se envolver e construir um futuro melhor, ainda que isso demore um pouco mais. “O ponto é que brasileiro pode ser muito mais solidário e a gente precisa se desenvolver mais, nosso país é muito desigual, a gente tem que se ajudar mais”, pontua.
Recentemente, publicaram a continuação de uma pesquisa que começou em 2001, data declarada pela ONU como ano do voluntariado, e foi sendo publicada de 10 em 10 anos ONU declarou como ano internacional do voluntariado. Em sua primeira versão, quando perguntavam aos brasileiros se a pessoa já havia realizado algum trabalho voluntário na vida, 18% responderam que sim.
Em 2011, fizeram novamente e a resposta saltou para 25%. No ano passado, em meio ao auge da pandemia, mais um salto, dessa vez, o maior de todos: 56% dos entrevistados disseram que sim, já haviam realizado algum trabalho voluntário. “Ou seja, por essa perspectiva, temos que comemorar. Em duas décadas a gente cresceu bastante”, comenta Marcelo.
Mas - e há sempre um “mas” - há outras pesquisas não tão positivas assim. Em um ranking mundial onde se pergunta se a pessoa ajudou algum estranho, doou dinheiro ou doou tempo, o Brasil ficou em 54º lugar. “Em doar tempo, o Brasil fica em 68º, bem o meio do ranking, isso é muito ruim e podemos fazer muito mais. Só pra você ter uma ideia, a gente está falando de país que fica em primeiro lugar doando 60% do tempo. No Brasil, a resposta é 15%. E veja, é a Indonésia, não é nenhum país super rico, a gente vê nesse mesmo ranking países em desenvolvimento com tanto ou mais dificuldades que o Brasil enfrenta, mas existe uma cultura de sociedade”, conta Marcelo.
“É quando a empresa desenvolve ações de voluntariado, muitas vezes dentro de um programa estruturado, que visa engajar seus colaboradores a realizar algum trabalho voluntário na comunidade. Às vezes isso nasce de uma força que já vinha acontecendo, uma mobilização das pessoas da empresa que a própria empresa vê e decide reforçar porque vê que é uma boa prática”, explica Nonohay.
Os benefícios são muitos, é claro. São eles: engajamento da equipe, melhora na produtividade e rentabilidade comparado ao restante da indústria, afeta positivamente o clima organizacional e o sentimento de pertencimento, é um diferencial para atrair e reter talentos, melhoria de reputação, fortalecimento de marca, ajuda os colaboradores a desenvolver novas habilidades e competências, exercita a empatia não só da equipe como também dos líderes e traz senso de urgência a partir do contato com outras realidades nessa “furada de bolha”.
Para o indivíduo como pessoa, os ganhos também são muito grandes: ganhos na saúde física como prevenção de doenças cardiovasculares, pode levar a longevidade, tem correlação com saúde mental e bem-estar, redução do estresse e ansiedade, ajuda a encontrar propósito não só na vida, mas também no seu dia a dia, melhora a capacidade de sociabilidade da pessoa e, por fim, ajuda a pessoa a encarar seus problemas sob outra perspectiva, vendo que muitas vezes eles podem não ser tão sérios quando comparado ao de outras realidades.
“Os empresários têm já uma função importante, porque no momento em que eles empreendem, eles estão olhando para necessidades do mercado, buscando suprir alguma delas e, no caminho disso, eles geram empregos, pagam impostos e produzem tecnologia”, diz.
“Só que hoje a barra tá mais alta, por dizer assim”, continua. “Você não pode só ser um ótimo empresário, extremamente eficiente e se dar por satisfeito por aí. Hoje em dia existe a sigla ESG (Governança ambiental, social e corporativa, em tradução livre) tão falada e tão importante, que coloca em pauta não só os desafios a se atingir da empresa, mas também os fatores externos, como cuidar do meio ambiente, das pessoas. As empresas que querem ser de ponta não tem escapatória, precisam fazer tudo bem feito e ainda cuidar desses pontos”, crava Marcelo.
Dentro do ESG cabe o voluntariado corporativo que mencionamos anteriormente, por exemplo, afinal, trata-se de uma ação onde é promovido ao mesmo tempo o engajamento interno e também o engajamento com a comunidade ao redor. Uma pesquisa recente do Datafolha revelou que 15% dos voluntários fizeram voluntariado empresarial, ou seja, as empresas ajudaram a promover essa cultura, provando o ponto de que pode ser uma ótima porta de entrada para a filantropia.
“Quase sempre quando eu promovo trabalho voluntário dentro das empresas e pergunto se alguém ali já foi voluntário, pelo menos metade diz que não, então é uma ação inédita na vida delas que vai só trazer benefícios, disseminar essa cultura e faz com que as pessoas tenham essa vontade de participar. A empresa coloca seu capital a serviço de promover um país melhor”, diz.
O primeiro passo é reconhecer sua importância individual dentro de um contexto coletivo. Ações individuais contribuem sim, e muito! Mas se a sua vontade for de voluntariado e colocar a mão na massa, o primeiro passo deve ser achar uma causa com a qual você se identifique. Uma vez identificada, é preciso que a logística caiba na sua rotina para que isso não seja um problema no futuro.
“Brasileiros mostram ter um pouco de pé atrás com as instituições, naquelas pesquisas que mencionamos. Temos medo de doar por medo, sendo que a maioria esmagadora das instituições são super sérias. Vai conhecer, vai ouvir, vai conversar com as pessoas dessas instituições, vai entender de que maneira você pode apoiar e assim você vai confiando”, relembra Marcelo.
Comprometimento deve ser regra, a pessoa deve estar comprometida como se fosse um trabalho remunerado, afinal, as pessoas envolvidas precisam de você ali. “As pessoas usam como desculpa não terem tempo para ser voluntário e o Drauzio mesmo está aí toda semana no presídio, mesmo com a agenda atribulada dele. Ele é um exemplo vivo de como o voluntariado é transformador para todos os lados e é possível de ser feito. É um compromisso de vida e é esse compromisso que a gente precisa ter”, diz.
“Parece que nesse país, tudo que é público ninguém cuida. Se é público, é de todos, a gente tem que cuidar. Então é esse tipo de cultura que tem que mudar. A gente se encaminha pra ter uma sociedade muito melhor de viver”, conclui Marcelo. Inspire-se a ser agente de mudança, você é parte do que espera ver no mundo ao seu redor e cada ação importa. Engaje-se!
Conteúdos
Vale o mergulho Crônicas Plenae Começe Hoje Plenae Indica Entrevistas Parcerias Drops Aprova EventosGrau Plenae
Para empresas